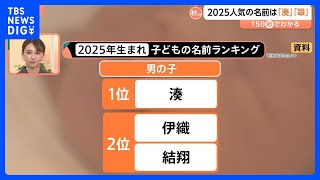Porque é que, num país que celebra a inovação, o sector cultural continua sem acesso a apoios capazes de sustentar práticas verdadeiramente tecnológicas? Ficamos a ver o futuro em palco, mas raramente o financiamos fora dele. O contraste é evidente: fala-se de disrupção, algoritmos e criatividade aumentada; na prática, a maior parte dos artistas que trabalham com tecnologia continuam sem condições mínimas para produzir.
Se olharmos para os apoios e concursos públicos, percebemos um desequilíbrio estrutural. Em Portugal, o financiamento público continua fortemente orientado para as linguagens tradicionais — teatro, música, artes plásticas — enquanto os projectos que cruzam arte, tecnologia e ciência permanecem num limbo orçamental. Não por falta de qualidade ou relevância, mas porque o sistema de financiamento não foi desenhado para eles.
A DGArtes, o GEPAC ou o ICA, ainda que essenciais, apoiam sobretudo estruturas já instituídas e práticas consolidadas. As formas híbridas como instalações interactivas, vídeos imersivos, robótica, escultura digital, bioarte, inteligência artificial aplicada à criação, exigem recursos que os concursos não contemplam: hardware especializado, software licenciado, investigadores técnicos, laboratórios, equipas multidisciplinares. Estas necessidades são vistas como “extras”, e não como o coração da obra.
Esta lacuna cria um paradoxo notório. O país exibe entusiasmo pelo digital, pelas startups e pela economia do futuro, mas os artistas que tentam operar nesse território enfrentam uma ausência quase total de suporte material. Produzir arte mediada por tecnologia implica custos elevados e conhecimento avançado. Não é possível competir com linguagens contemporâneas internacionais quando os apoios continuam pensados para modelos de produção do século XX.
Nos últimos anos, multiplicaram-se concursos que incentivam a criação com tecnologia, muitas vezes com o actual rótulo fetichista da “inteligência artificial”. À primeira vista, parecem sinal de progresso. Mas rapidamente revelam a mesma fragilidade: o valor atribuído. Falamos de financiamentos simbólicos que mal cobrem custos de produção, quanto mais investigação, prototipagem, consultoria técnica ou aquisição de equipamento. Criam o discurso da inovação, mas não a infra-estrutura necessária para que ela exista.
É aqui que se torna claro o problema: financiar tecnologia na cultura não é apenas pagar honorários; é sustentar ecossistemas. É garantir que artistas possam colaborar com engenheiros, que haja laboratórios acessíveis, que existam condições reais para experimentar, errar, testar e produzir. Sem isso, o apoio ao digital torna-se apenas performativo, uma fachada moderna num sistema que continua profundamente conservador.
O resultado deste bloqueio é previsível. Portugal corre o risco de se tornar sobretudo consumidor de cultura tecnológica internacional, mas não produtor. Importamos obras imersivas, exposições interactivas, instalações mediáticas e formatos digitais de grande escala, enquanto os nossos criadores permanecem confinados a micro-bolsas e concursos que não permitem expansão verdadeira. E, mais grave, as práticas que poderiam desafiar as fronteiras entre arte, ciência e até mesmo a espiritualidade — aquelas que definirão o futuro da criação — são sistematicamente marginalizadas.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: feeds.feedburner.com